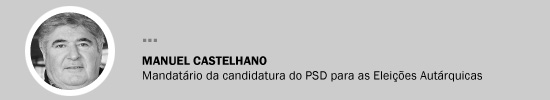
Sempre que se aproximam eleições autárquicas existem movimentações sociais, por parte de alguns actores, no sentido de se posicionarem, de acordo com as suas aspirações, na grelha de partida na corrida ao poder. Os partidos escolhem os seus candidatos. Os candidatos escolhem as suas equipas.
Como há muito menos lugares do que os pretendentes, surgem sempre pequenas quezílias, desamores, dissenções e rancores, invejas, e ressentimentos. E se é certo que os partidos têm muitas vezes culpas directas nesta má gestão das competências e das expectativas, também o é, e sobremaneira, que os excluídos da escolha ficam sempre com a impressão de que são muito melhores do que os escolhidos, que têm projectos melhores para a sociedade e, portanto, sentem-se com direito ao ressentimento.
E procuram a vingança, não interessa por que forma, nem interessa a coerência. Se concorrem como independentes ou se mudam de partido. Não interessa se têm que vender todo o seu capital de valores e de convicções em nome do seu interesse mesquinho no poder. E descartam o passado. E descartam as boas condutas. E descartam o seu contexto de valores e de pensamento. E descartam os instituídos que os acolheram e que os alimentaram.
Não há imperativos de consciência. Não pensam que um dos valores que a sociedade privilegia é normalmente a estabilidade das condutas, a coerência, a manutenção do caracter do indivíduo e que tende a castigar esses zig-zagues sem pudor, nem moral.
Toda a gente tem direito a mudar. Mas o povo tem dificuldade de compreender e aceitar essas viragens abruptas e percebe bem quando a mudança é séria ou oportunista. E a rejeição acontece colocando-se legitimamente a questão: será que o que essa pessoa defendeu até agora estava tudo errado?
Há limites para a tolerância social. Quando a cambalhota é grande, a massa votante, que a não percebe, prefere, e bem, não mudar o seu sentido de voto.
Não entender isto, é não ter noção das dinâmicas sociais de construção do poder. O resto são bizarrias que o tempo se encarregará de diluir.

Propriedade da Igreja Paroquial do Santíssimo Sacramento de Alcobaça
NIPC: 501 334 750
Registo ERC 104003
Depósito Legal nº138874/99
Siga-nos:
Rua Miguel Bombarda, nº8
2460-068 Alcobaça
Tel: 262 583 485 | 963 655 121
direccao@oalcoa.com
noticias@oalcoa.com
assinaturas@oalcoa.com
publicidade@oalcoa.com